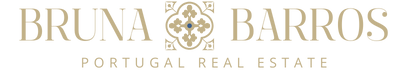Era uma manhã clara e fresca de 1º de novembro de 1755. Lisboa acordava em clima de devoção: era o Dia de Todos os Santos, uma das datas mais importantes do calendário católico. As ruas estreitas estavam cheias de fiéis a caminho das igrejas, e o som dos sinos ecoava por toda a cidade. Dentro dos templos, as velas ardiam diante de altares enfeitados, e o cheiro do incenso preenchia o ar. Era um dia sagrado que, ironicamente, seria lembrado como o mais trágico da história portuguesa.

O rugido das entranhas da terra: O início do fim
Pouco antes das dez horas, um ruído profundo começou a subir das entranhas da terra, estrondos que muitos compararam a tiros de canhão ou trovoadas. Logo em seguida sentiu-se o tremor do chão. Era um primeiro abalo mais leve. Mas o segundo veio com força devastadora!
As paredes racharam, os sinos caíram das torres e o pânico tomou conta das ruas. Três tremores sucessivos abalaram Lisboa em menos de dez minutos. Igrejas desabaram sobre os fiéis, casas inteiras ruíram, e a cidade, então uma das mais prósperas da Europa, parecia desmoronar sob os próprios alicerces.
Quando o tremor finalmente cessou, Lisboa já não era a mesma. Uma nuvem espessa de poeira cobria o céu, e o ar estava pesado de cinzas e medo. O silêncio que se seguiu foi rapidamente quebrado pelos gritos de desespero. Pessoas corriam em todas as direções completamente atordoadas em meio a escombros, corpos e terror.
Em meio ao caos e o cenário de apocalipse, muitos decidiram correr em direção ao Terreiro do Paço, a grande praça aberta junto ao rio Tejo. Ali não havia edifícios e supostamente as pessoas estariam a salvo das construções que desabavam por toda parte. Famílias inteiras se reuniram, algumas rezando, outras apenas em silêncio, tentando compreender o que acabara de acontecer.
Mas o que parecia um refúgio logo se mostrou uma armadilha da natureza!
…O Tsunami
Minutos depois, o mar começou a recuar de forma estranha, revelando o leito do rio e embarcações encalhadas sobre a lama. Ninguém sabia o que aquilo significava. Em poucos instantes, porém, um rugido surdo rompeu o ar — e o Tejo, antes retraído, voltou com uma força inimaginável. Uma onda gigantesca ergueu-se no horizonte e avançou sobre a cidade, arrastando tudo o que encontrava pela frente.
O que o terremoto não havia destruído, a água levou. O Terreiro do Paço, símbolo do poder real e centro da vida lisboeta, desapareceu sob a fúria do mar.
…O Incêndio
O terror, porém, ainda não tinha terminado. Nas horas seguintes, incêndios se espalharam por toda a cidade. As chamas consumiram os escombros e transformaram Lisboa em um imenso campo de fogo. As cenas eram dantescas: sobreviventes vagavam em choque, padres rezavam entre as ruínas, e o cheiro de fumaça misturava-se ao da morte.
Naquele dia, Lisboa perdeu mais do que seus edifícios — perdeu parte de sua alma. Mas das cinzas desse desastre nasceria uma nova cidade, guiada por uma das figuras mais notáveis da história portuguesa: o Marquês de Pombal.
O que foi o Terremoto de Lisboa de 1755
O terremoto de Lisboa de 1755 é considerado um dos mais poderosos e influentes da história europeia. Estima-se que tenha atingido uma magnitude entre 8,5 e 9,0 na escala de Richter, embora algumas fontes mais antigas indiquem 9,0 ou até 9,5.
O impacto do tremor não se limitou a Lisboa: relatos antigos indicam que foi sentido em grande parte da Península Ibérica, sul da França e norte da África. Há também registros de perturbações no nível das águas nos Açores, nas Caraíbas e no oceano Atlântico, sugerindo que o evento teve efeitos geofísicos de larga escala.
As estimativas de mortos variam amplamente. Fontes históricas falam de 40.000 a 60.000 vítimas, embora alguns estudiosos levantem números mais conservadores de 10.000 a 20.000, dada a dificuldade de registros confiáveis do século XVIII.
Além dos mortos, milhares ficaram feridos ou desabrigados, enquanto edifícios e bairros inteiros foram reduzidos a escombros. O terremoto foi seguido pelo tsunami e pelo incêndio, multiplicando os efeitos destrutivos.
Lisboa antes do terremoto: uma cidade vibrante e caótica
Antes do desastre, Lisboa vivia o auge de seu poder colonial. Era o grande entreposto comercial do Atlântico, enriquecida pelo ouro do Brasil e pelas especiarias vindas da Índia e da África. A cidade fervilhava de vida, mas também de contrastes.
As ruas eram estreitas, mal iluminadas e cheias de construções desordenadas. O saneamento era precário — o lixo e os dejetos eram jogados pelas janelas, e o ar das vielas era pesado. Ainda assim, Lisboa encantava visitantes estrangeiros pela sua energia, pelos palácios, igrejas e pelas vistas deslumbrantes sobre o Tejo.
Naquele 1º de novembro, o dia santo levou milhares às igrejas. Muitas mulheres, que raramente saíam de casa, aproveitaram a ocasião para assistir à missa. Essa coincidência trágica fez com que os templos — pontos de maior concentração de pessoas — fossem também os mais atingidos.
O caos nas ruas e a sombra da tragédia
As descrições da época falam de um cenário dantesco. Corpos espalhados pelas ruas, gritos, choro e desespero. Em meio à tragédia, surgiram também relatos de saques — pessoas desesperadas em busca de comida, ouro e joias.
O caos foi tamanho que o rei Dom José I, aterrorizado, se refugiou em tendas nas colinas de Ajuda, temendo novos tremores. A partir desse momento, quem assumiu o controle da situação foi o seu ministro mais influente: Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal.
Quando lhe perguntaram o que fazer, respondeu com uma frase que se tornaria lendária: “Enterrar os mortos e cuidar dos vivos.”
O nascimento de uma nova Lisboa
Sob a liderança do Marquês de Pombal, Lisboa iniciou uma das maiores reconstruções urbanas da história europeia. Foi o início da era pombalina — racional, planejada e inovadora.
O primeiro passo foi científico. Pombal ordenou a criação de um inquérito enviado a todas as paróquias do país, com perguntas detalhadas sobre o que havia sido sentido durante o terremoto: duração dos tremores, direção das ondas, comportamento dos animais, danos observados. Esse questionário é considerado um dos primeiros estudos sismológicos do mundo.
Em seguida, veio o plano urbanístico. Os engenheiros e arquitetos desenharam uma nova Lisboa, com ruas largas, quarteirões regulares e edifícios padronizados, feitos para resistir a abalos sísmicos. Nascia ali a Baixa Pombalina, símbolo do urbanismo moderno e modelo para outras cidades europeias.
A arquitetura passou a seguir princípios de funcionalidade e segurança. Criou-se o sistema de “gaiola pombalina” — uma estrutura de madeira interna nas paredes que garantia flexibilidade e absorção de impactos, algo revolucionário para a época.
As colinas e os novos bairros
Com a reconstrução, Lisboa se expandiu e novos bairros ganharam forma. Entre eles, destaca-se o da Lapa, planejado para abrigar famílias abastadas e diplomatas, e que mais tarde se tornaria sinônimo de prestígio e elegância.
A reconstrução também valorizou as colinas que haviam resistido ao terremoto — como Alfama e o Castelo, que mantiveram seu traçado medieval e tornaram-se áreas de refúgio e renascimento cultural. Cada colina passou a simbolizar uma Lisboa diferente: a histórica, a reconstruída e a moderna.
O impacto filosófico e cultural
O terremoto de 1755 abalou não apenas Lisboa, mas toda a Europa. Filósofos como Voltaire e Rousseau debateram o evento como uma tragédia que desafiava a fé e a razão. O poema “Poème sur le désastre de Lisbonne”, de Voltaire, expressava o choque do iluminismo diante da catástrofe — questionando como um Deus benevolente poderia permitir tamanha destruição.
Lisboa tornou-se símbolo da fragilidade humana, mas também da capacidade de se reerguer. A tragédia transformou o modo como as cidades passaram a pensar o urbanismo, a prevenção de desastres e a própria organização social.
O legado do terremoto: uma cidade renascida
A nova Lisboa que emergiu das ruínas era mais racional, iluminada e segura. A Baixa Pombalina, com suas praças simétricas e avenidas largas, tornou-se o coração administrativo e comercial da cidade. O Terreiro do Paço — rebatizado como Praça do Comércio — foi reconstruído como o grande portal da capital, voltado para o rio e para o mundo.
Esse renascimento fez de Lisboa uma referência em planejamento urbano, inspirando outras cidades europeias e afirmando o caráter resiliente do povo português. O que poderia ter sido o fim tornou-se o ponto de partida de uma nova era.
Quake: o museu que revive o dia em que Lisboa tremeu
Hoje, quase três séculos depois, é possível reviver essa história de forma surpreendente no Museu Quake, em Lisboa. Localizado em Belém, o espaço combina tecnologia imersiva, história e emoção.
O visitante percorre uma verdadeira viagem no tempo — da Lisboa pré-terremoto ao caos de 1755 e à reconstrução pombalina. A experiência multissensorial simula os tremores, o incêndio e o tsunami, permitindo compreender não apenas o que aconteceu, mas o impacto humano e social do desastre.
Mais do que um museu, o Quake é uma homenagem à capacidade de superação de uma cidade que literalmente renasceu das cinzas. Uma visita obrigatória para quem deseja entender a alma de Lisboa e o espírito de resiliência que moldou sua identidade até hoje.
As ruínas do Carmo: as evidências mais claras do terremoto de 1755 em Lisboa
As ruínas do Convento do Carmo são, ainda hoje, as evidências mais claras e impressionantes da devastação provocada pelo terremoto de 1755. Localizadas no Largo do Carmo, em pleno Chiado, as arcadas góticas sem teto resistiram ao colapso quase total da cidade e foram deixadas em ruínas como um memorial permanente da tragédia.
O convento, fundado no final do século XIV por Dom Nuno Álvares Pereira, foi uma das mais imponentes construções religiosas de Lisboa medieval. Durante o sismo, o teto da igreja desabou sobre os fiéis que assistiam à missa, e grande parte do edifício ruiu. Ao contrário de outras igrejas e construções da época, o Carmo nunca foi totalmente reconstruído — as suas paredes e abóbadas abertas ao céu permanecem exatamente como ficaram após o desastre, um testemunho silencioso da força destrutiva da natureza e da capacidade de resiliência de Lisboa.
Hoje, o espaço abriga o Museu Arqueológico do Carmo, onde se misturam a beleza melancólica das ruínas com um acervo que atravessa séculos de história portuguesa. Caminhar sob as arcadas quebradas e ver o céu por entre as colunas é, talvez, a forma mais simbólica de compreender a dimensão do terremoto que mudou Lisboa para sempre.

Lisboa, ontem e hoje: da reconstrução ao prestígio
O terremoto de 1755 não apenas transformou a arquitetura e o urbanismo de Lisboa, mas também pavimentou o caminho para a cidade elegante e cosmopolita que conhecemos hoje. Bairros como Chiado, Lapa, Príncipe Real e Baixa são herdeiros diretos dessa reconstrução, onde o charme histórico se une à modernidade.
A harmonia entre tradição e inovação continua sendo uma das maiores marcas da capital portuguesa — e também um dos fatores que mais atraem investidores e famílias do mundo todo.
A CAP International e o novo olhar sobre Lisboa
A CAP International é uma imobiliária global especializada em imóveis de alto padrão em Portugal e nos Estados Unidos. Com forte presença em Lisboa, Cascais e Algarve, a empresa acompanha de perto o crescimento e a valorização das áreas históricas da cidade — herdeiras diretas da reconstrução iniciada após o terremoto de 1755.
Viver em Lisboa hoje é, em parte, usufruir desse legado — de uma cidade que soube renascer e se reinventar sem perder sua essência.
Se você deseja morar ou investir em Lisboa, entre em contato com a CAP International e descubra as melhores oportunidades em uma das capitais mais vibrantes e inspiradoras da Europa.